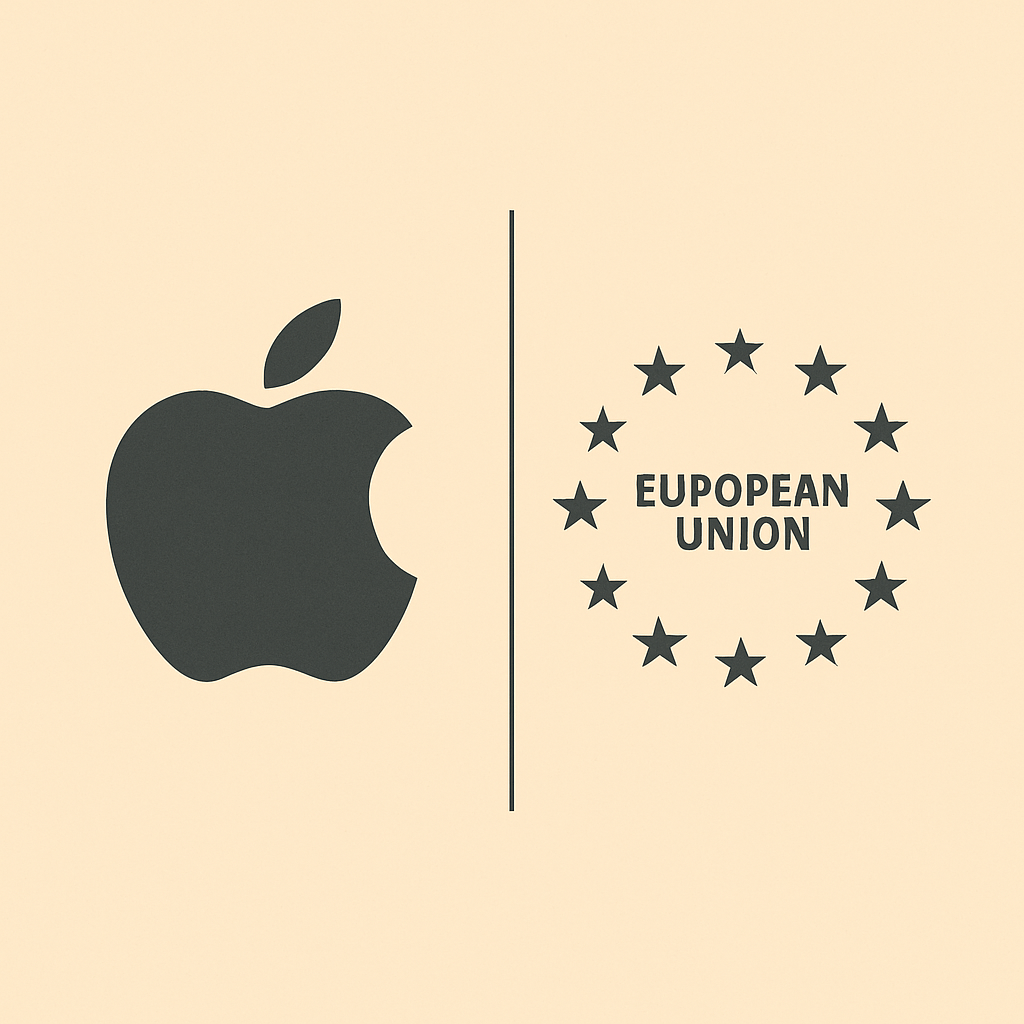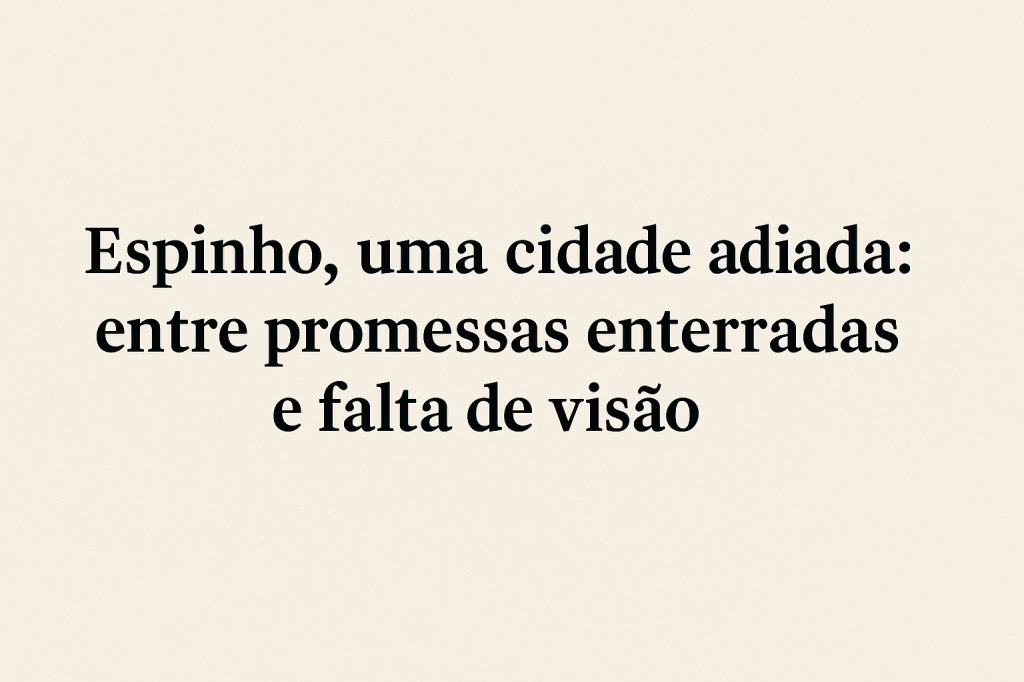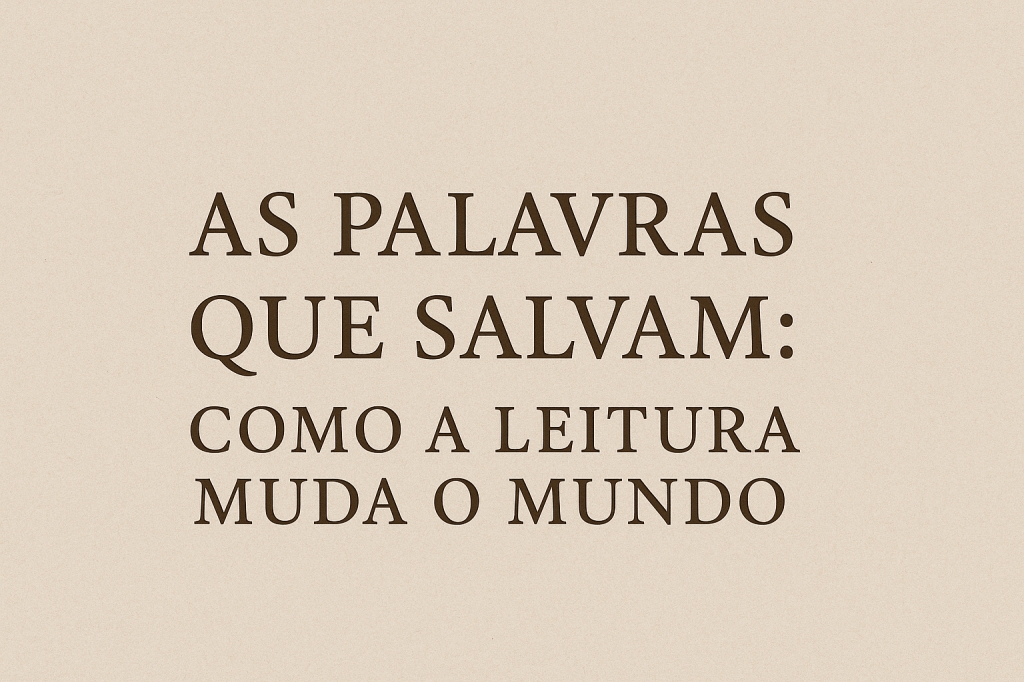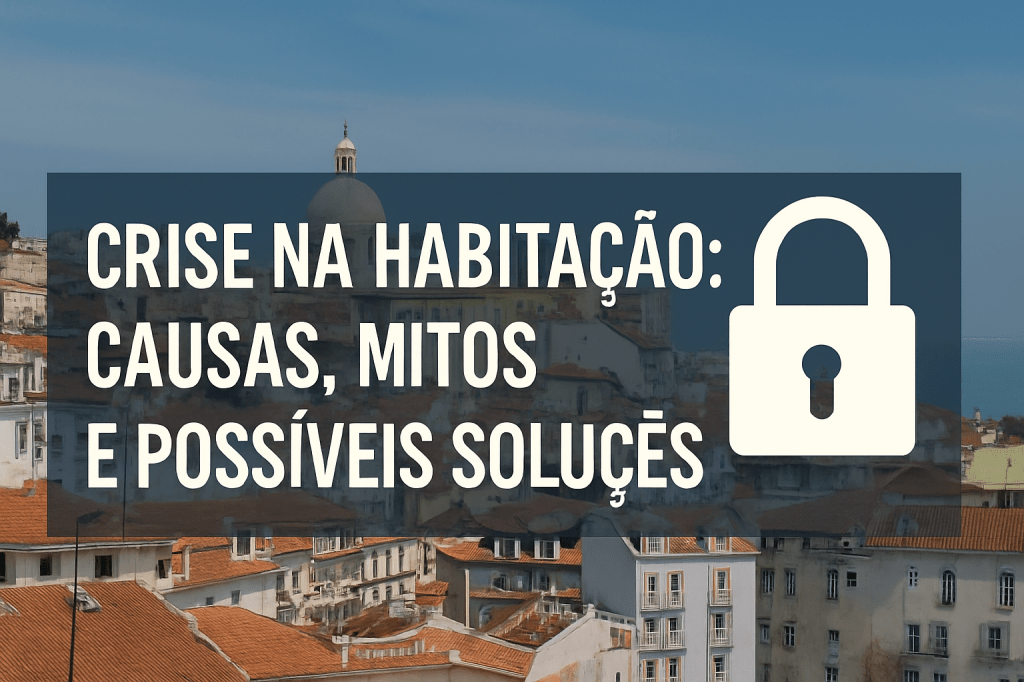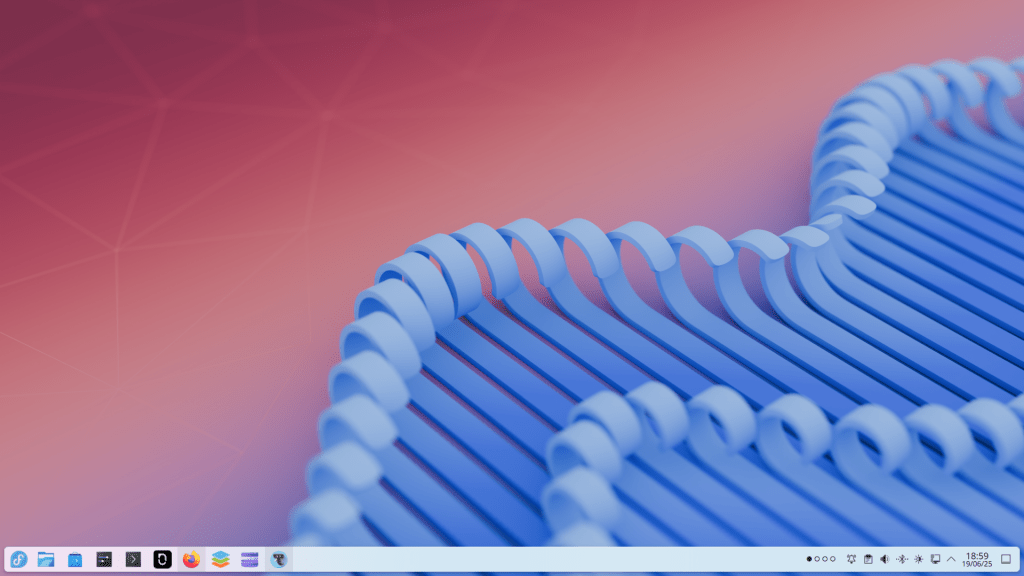Há algo de irónico na forma como as grandes empresas tecnológicas falam de liberdade. Prometem simplicidade, segurança e privacidade, mas fazem-no à custa de barreiras cada vez mais altas. A Apple é talvez o exemplo mais visível: decide que aplicações podemos instalar, que acessórios são válidos e que serviços se podem usar. O argumento é sempre o mesmo — proteger o utilizador. Mas que tipo de liberdade é essa, quando só existe dentro de um espaço cuidadosamente vigiado?
A União Europeia, através da Digital Markets Act (DMA), tenta abrir brechas nesses muros. Obriga os chamados gatekeepers a permitir alternativas: outras lojas de aplicações, escolhas de software pré-instalado, interoperabilidade real entre dispositivos. Não é apenas uma questão legal, mas cultural: quem deve ter a última palavra sobre os nossos aparelhos — nós ou as empresas que os fabricam?
Como escreve David Bollero no Publico.es, a Apple tem vendido incompatibilidade disfarçada de exclusividade.
A tentação do controlo
O caso da Apple é paradigmático, mas não está sozinha. A Google, que durante anos se apresentou como alternativa mais aberta com o Android, começa a seguir o mesmo caminho. Avisos intimidatórios ao instalar aplicações externas, bloqueios do Play Protect, dependências técnicas que tornam os serviços quase indispensáveis. Passo a passo, o jardim aberto transforma-se num espaço cercado.
É sempre a mesma narrativa: restringe-se em nome da proteção. Mas proteger o utilizador significa também decidir por ele — e isso, levado ao extremo, transforma cidadãos em clientes cativos.
Liberdade e risco
A liberdade digital nunca foi isenta de perigos. Instalar uma aplicação fora da loja oficial pode trazer problemas de segurança. Mas a ausência de liberdade traz outro risco: o da infantilização tecnológica. Se não podemos decidir sobre o que corre nos nossos próprios dispositivos, até que ponto eles são verdadeiramente nossos?
A história repete-se: nos anos 90 discutia-se se os computadores deveriam ser fechados ou abertos à personalização. Hoje, o palco é o dos smartphones, mas a disputa é a mesma — liberdade criativa contra comodidade controlada.
O gesto europeu
É revelador que seja a União Europeia a colocar limites a este poder privado. Muitas vezes acusada de burocrática, é agora a voz que insiste na abertura, na concorrência e na possibilidade de escolha. As multas e investigações contra a Apple e a Google não são apenas atos de regulação, mas declarações políticas: a tecnologia deve servir os cidadãos, não o inverso.
Entre muros e janelas
O futuro digital decide-se nesta tensão entre muros e janelas. Muros que confinam, janelas que abrem possibilidades. Os tribunais ditarão parte do resultado, mas outra parte dependerá de nós, utilizadores: aceitamos o conforto do jardim murado ou reclamamos o direito de arriscar a nossa própria liberdade?
Talvez esta seja a verdadeira questão: se queremos ser tratados como adultos capazes de decidir ou como crianças a quem se oferece apenas a ilusão da escolha.