Durante décadas, a esquerda foi o campo político onde se debatiam projetos de futuro: mais justiça, mais igualdade, mais liberdade. Em Portugal e na Europa, esse campo está hoje em perda — não apenas porque perdeu eleições, mas porque perdeu enraizamento social, ambição programática e, acima de tudo, clareza sobre a quem se dirige.
O caso do PS: do reformismo à gestão
O Partido Socialista português é o exemplo acabado desta crise. Em tempos, foi um partido reformista, capaz de combinar estabilidade com transformação social. Mas há muito que deixou de o ser. Sob a liderança de António Costa, tornou-se um partido de manutenção: fixado na estabilidade orçamental, resistente a reformas estruturais e alérgico ao risco político.
A “geringonça” prometeu uma nova forma de governar à esquerda, mas rapidamente revelou os limites do PS. O partido travou quase todas as reformas propostas pelos seus parceiros, recusou reverter a legislação laboral da troika, e optou por subfinanciar os serviços públicos em nome de um excedente orçamental. O PS tornou-se um gestor do status quo — e um gestor sem visão não mobiliza ninguém.
Pedro Nuno Santos tentou aparecer como um novo rosto. Mas, para além de ter chegado tarde, foi um erro de casting. Apesar da retórica combativa e do ar de renovação, era uma figura próxima de António Costa e fazia parte da ala mais à esquerda do PS. Isso afastou o eleitorado do centro e impediu que o partido reconstruisse pontes com sectores moderados e urbanos, cada vez mais tentados a votar Iniciativa Liberal ou PSD. Sem uma rutura clara com o legado e sem capacidade de alargar a sua base, Pedro Nuno revelou-se incapaz de travar a maré descendente.
Nem o centro, nem a margem: a esquerda a desaparecer
Mas o declínio da esquerda não se limita ao PS. Também a esquerda radical — que durante anos se afirmou como alternativa, ainda que muitas vezes no registo do protesto — está em queda, tanto em Portugal como no resto da Europa. O Bloco de Esquerda perdeu capacidade de mobilização e foi-se deixando prender por debates identitários e simbólicos, afastando-se das preocupações materiais de grande parte do eleitorado. Além disso, nunca recuperou da penalização política sofrida após a queda da geringonça. Já o PCP atravessa um ocaso prolongado, marcado pela rigidez ideológica, pelo envelhecimento da base social e por uma crescente desconexão com as dinâmicas do mundo contemporâneo.
Lá fora, o cenário é semelhante. Em França, Jean-Luc Mélenchon perdeu tração. Na Grécia, o Syriza caiu para 17,8% nas legislativas de 2023, levando à saída de Alexis Tsipras. Em Espanha, o Podemos implodiu, fragmentando-se após anos de desgaste e sendo eclipsado pelo crescimento da extrema-direita. E na Alemanha, embora o Die Linke tenha registado um surpreendente regresso em 2025 — alcançando 9% e garantindo 64 lugares no Parlamento, impulsionado pelo voto de mulheres jovens —, o partido atravessou anos de irrelevância e profundas divisões internas.
Afinal, para quem fala a esquerda?
A grande pergunta que se impõe é esta: para quem está hoje a falar a esquerda?
Se fala apenas para as cidades, para os mais escolarizados, para os debates culturais de nicho, esquece a base que lhe deu origem: os trabalhadores, os jovens precários, as famílias das periferias, os reformados esquecidos.
Essa desconexão é um presente para os populismos de direita. Quando a esquerda deixa de oferecer soluções materiais, de curto e longo prazo, outros preenchem esse vazio com slogans fáceis, ressentimento e promessas de um passado que nunca existiu.
Ou a reconstrução, ou a irrelevância
Não se trata de “radicalizar” ou de “moderar”. Trata-se de voltar a ligar a política à vida concreta das pessoas, com propostas credíveis e transformadoras. Habitação, salários, justiça fiscal, serviços públicos, ambiente, participação democrática — são estas as trincheiras do presente. E não basta falar delas: é preciso fazer delas causas populares.
A esquerda não desapareceu porque perdeu o povo. Perdeu o povo porque se esqueceu de o ouvir — e de o representar.

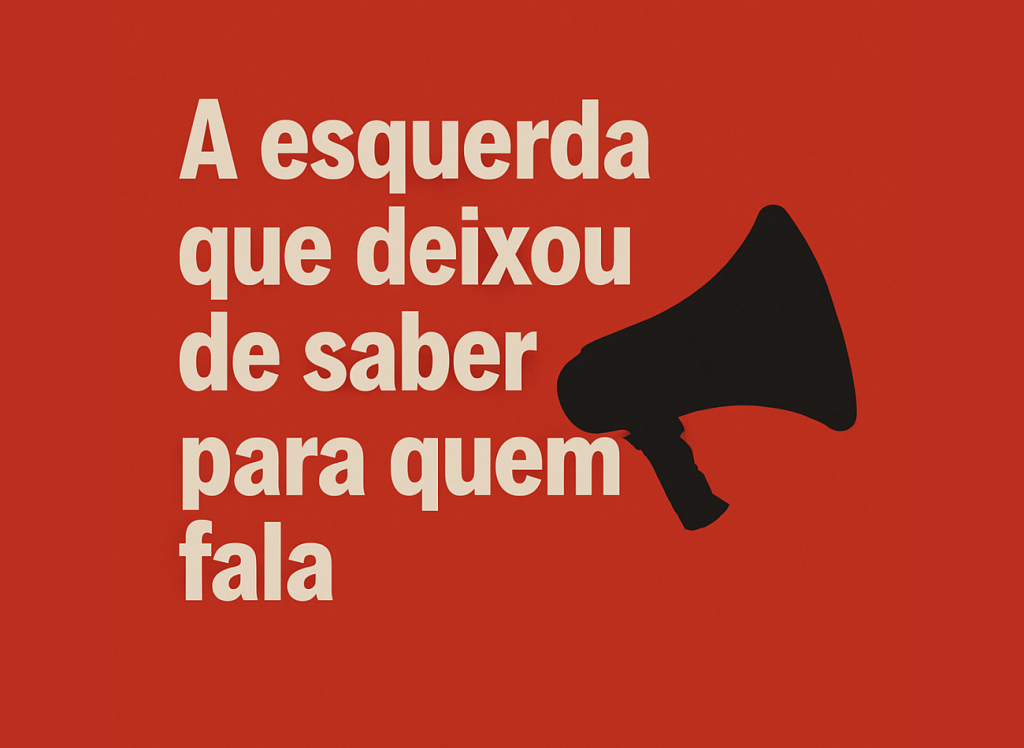
Deixe um comentário